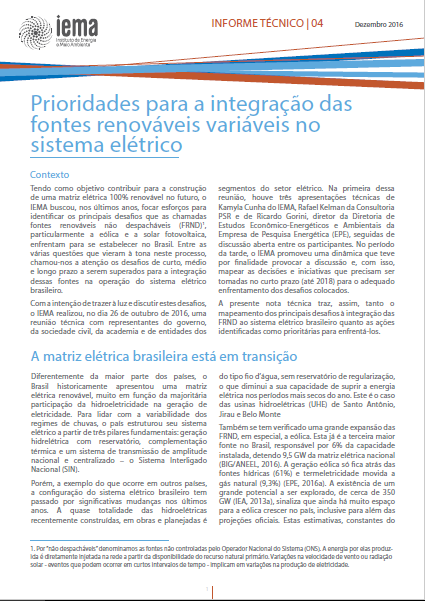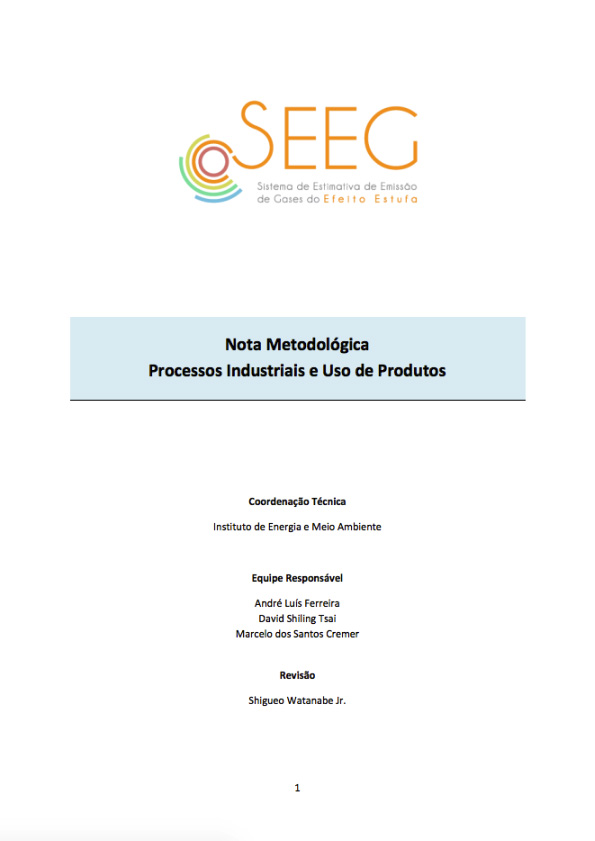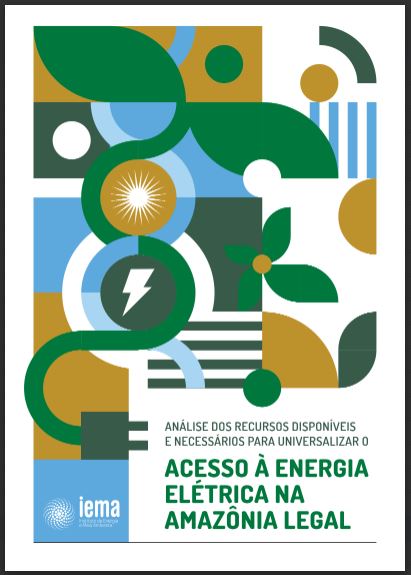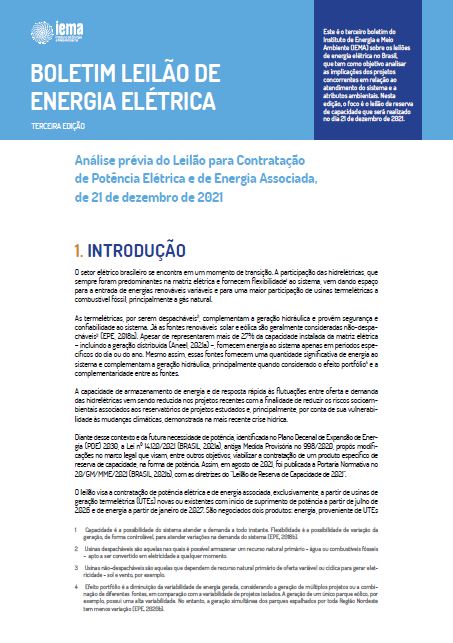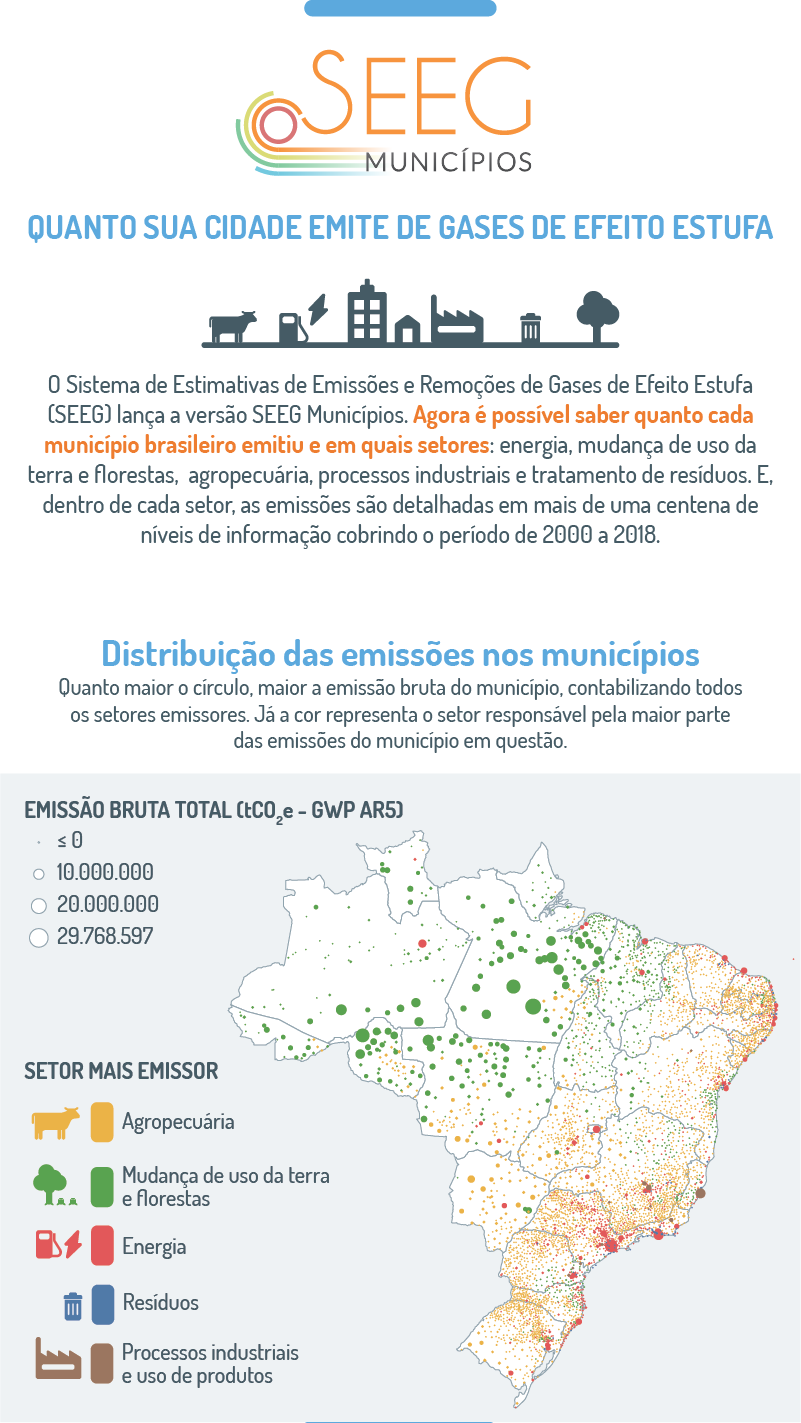Quando se pensa em infraestrutura, se imagina desenvolvimento socioeconômico, avanço no acesso a serviços básicos e mobilidade. Na Amazônia, no entanto, não é isso que o termo representa: a infraestrutura que existe na região serve a alguns poucos em detrimento da maioria da população. E frequentemente vem acompanhada da violação de direitos e exclusão social. Esta é a conclusão da mesa-redonda “Infraestrutura sustentável na Amazônia: caminhos para a transição energética e ecológica”, ocorrida na 29ª Conferência das Partes (COP 29) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, em Baku, Azerbaijão, no dia 20 e contou com a participação do IEMA. Ela foi promovida pela organização Uma Gota no Oceano.
Cleidiane Vieira, que faz parte da coordenação regional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) no Pará, foi firme em expor esta realidade: “O desenvolvimento sempre vem com uma condicionante”. Ela contou que um dos casos mais recentes foi a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada na bacia do Rio Xingu próxima ao município de Altamira, no norte do estado. O acesso a serviços de saneamento básico, conta ela, só seria dado a Altamira depois da construção da hidrelétrica. “É uma infraestrutura sempre pensada de fora para fora. A região amazônica nunca foi considerada capaz de pensar seu próprio desenvolvimento”, observa.
Belo Monte, que cortou o fluxo do Rio Xingu em mais de 80% e reduziu a reprodução de peixes, aumentando o risco de extinção de espécies endêmicas, encareceu ao invés de baratear a energia elétrica em Altamira. “As hidrelétricas foram feitas para atender a demanda de geração de energia do país, nunca para atender a demanda dos povos. Porque, se fosse assim, não haveria uma família na Amazônia sem energia. Mas essa não é a realidade”, diz Vieira.
Estudos confirmam a experiência de Vieira. Construída entre 2011 e 2016, Belo Monte é a segunda maior usina hidrelétrica em capacidade instalada no Brasil, atrás apenas de Itaipu. Em um artigo publicado em fevereiro deste ano na revista Energy Research & Social Science, pesquisadores das universidades de Michigan, nos Estados Unidos, e de Campinas lembram que a maioria da energia produzida por Belo Monte vai para o sudeste brasileiro. Eles dizem que “parece contra intuitivo que, após a construção de uma das maiores hidrelétricas do mundo, o custo por kilowatt-hora para residentes é maior do que era antes da construção da barragem” — o que também acontece com moradores próximos às usinas de Jirau e Santo Antônio, construídas às margens do Rio Madeira perto de Porto Velho, em Rondônia.
Alessandra Munduruku, liderança Munduruku no Pará e presidente da Associação Pariri, foi ainda mais contundente em resumir o cenário: “No Pará, pagamos a energia mais cara do país, mesmo com hidrelétricas e os ‘linhões’ passando por nossas comunidades. A Amazônia está sendo saqueada sem retorno para os amazônidas”.
Insegurança energética e alimentar são rotina na vizinhança de grandes hidrelétricas na Amazônia.



Além dos impactos socioambientais, o problema com essas usinas é que sua própria razão de ser está sendo posta em xeque com as mudanças climáticas. Com a mudança no padrão de chuvas e secas mais fortes e recorrentes à frente, a produção de energia hidrelétrica entra em território desconhecido. “A boa notícia é que vemos um crescimento direto de energia solar e eólica nos últimos 15 anos”, diz Ricardo Baitelo, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA). Este crescimento é essencial para que o Brasil — e a Região Norte em especial — tenha melhora nos indicadores socioeconômicos. A transição energética, ele ressalta, “passa pela transmissão energética”.
A principal lógica por trás do argumento de Baitelo está nos indicadores sociais. “Quando falamos em escolas públicas sem acesso à energia: se somarmos Pará, Amazonas e Acre, nós temos 74% delas sem energia — ou mais de três mil escolas”. Enfrentam situação similar as unidades básicas de saúde da região — mais de mil UBS na Amazônia não têm acesso à eletricidade. “Não dá para imaginar como é lidar com vacinas e outros insumos que precisam ser refrigerados”.
Pensar na melhoria da infraestrutura de energia, segundo Baitelo, não tem a ver com geração e distribuição nos moldes que conhecemos hoje. Tem a ver com o conceito de energia plena, “ou seja, [fornecer energia] de acordo com as visões de cada beneficiário, o que ele precisa. Os indígenas têm as suas necessidades, os quilombolas têm outras, os extrativistas têm outras ainda”. O importante, diz ele, será estimular uma economia que atenda às necessidades dos diferentes grupos locais que ajude a preservar a floresta e subverter a lógica atual de infraestrutura vigente na Amazônia.
Os indígenas são um grupo crucial nessa virada. “Sim, nós somos parte dessa solução, mas se esta variação no clima continuar ocorrendo — no sentido de que há muita seca e muita cheia, por exemplo — sabemos que não temos o poder de fazer o rio se encher novamente de água. Precisamos realmente começar a nos planejar para enfrentar diretamente a mudança climática”, diz Sinéia do Vale, liderança indígena do povo Wapichana em Roraima e co-presidente da bancada Indígena na COP-29.
Para que ocorra uma transição energética justa, que garanta o direito dos povos indígenas, é preciso que haja um diálogo informado com as comunidades. Elas devem ter o direito de tomar decisões informadas baseadas em suas necessidades e autonomia, ela frisa. É preciso de infraestrutura para a Amazônia. Com ela, ter conexão à internet, acessar médicos, monitorar o desmatamento.
Para piorar o problema, os eventos climáticos estão afetando a Amazônia, uma região que já carecia de recursos básicos. “Com as mudanças climáticas, temos tido um aumento muito grande da área de floresta em pé afetada pelos incêndios florestais”, ressaltou Ane Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). De janeiro a outubro, 27 milhões de hectares foram queimados no Brasil como um todo, sendo 55% só na Amazônia. Foram sete milhões de floresta queimada, somando mais de nove milhões de hectares. “Isso não é comum para a Amazônia. Comum era ter área queimada de pastagem, agropecuária, com fogo sendo colocado por pessoas, nestes casos”, destaca Alencar.
Isso, pelo que parece, ainda não está perto de acontecer. “São hidrovias, hidrelétricas, portos e ferrovias que destroem a Amazônia e a vida dos povos tradicionais. Só no Tapajós, há 41 portos planejados, 27 já em operação, e apenas cinco licenciados”, observa Alessandra Munduruku. Os portos e rodovias, lembra ela, têm por finalidade o transporte de milho e soja, e não para a circulação de pessoas, bens e serviços para as comunidades locais.
Enquanto esta lógica não mudar, o real potencial de desenvolvimento socioambiental da Amazônia vai permanecer estagnado. Como lembra Cleidiane Vieira, é impossível pensar em solução para crise climática sem envolver quem as populações que mais sofrem: “nada para a Amazônia sem os amazônidas”.